Probióticos

O que são Alimentos Probióticos?
Alimentos probióticos são alimentos que contêm determinados microrganismos que quando ingeridos em quantidades adequadas, podem conferir benefícios à saúde do consumidor. Os microrganismos presentes nesses alimentos, também chamados de probióticos, resistem às condições desfavoráveis do trato gastrointestinal e chegam viáveis no cólon, onde atuam de forma benéfica à saúde do indivíduo.
Como os Microrganismos Probióticos agem?
Eles agem degradando alimentos que chegaram ao intestino, facilitando a absorção de nutrientes da dieta e aumentando a motilidade intestinal. Além disso, eles competem com os microrganismos patógenos, pelo espaço e por alimento e liberam substâncias nocivas a eles. Dessa forma, acabam por reduzir essa carga microbiana indesejável, diminuindo o risco do indivíduo manifestar doenças.
Os Probióticos também estão envolvidos no processo de estimulação do sistema imunológico e alguns exercem ações benéficas com relação a: teor de colesterol no sangue, obesidade, doenças inflamatórias intestinais, diabetes e câncer.
Efeitos Benéficos dos Microrganismos Probióticos
A influência benéfica dos probióticos sobre a microbiota intestinal humana inclui fatores como efeitos antagônicos, competição e efeitos imunológicos, resultando em um aumento da resistência contra patógenos. Assim, a utilização de culturas bacterianas probióticas estimula a multiplicação de bactérias benéficas, em detrimento à proliferação de bactérias potencialmente prejudiciais, reforçando os mecanismos naturais de defesa do hospedeiro (PUUPPONEN-PIMIÄ et al., 2002)
Três possíveis mecanismos de ação são atribuídos aos probióticos: 1) a supressão do número de células viáveis, através da produção de compostos com atividade antimicrobiana, a competição por nutrientes e a competição por sítios de adesão; 2) a alteração do metabolismo microbiano, através do aumento ou da diminuição da atividade enzimática; 3) o estímulo da imunidade do hospedeiro, através do aumento dos níveis de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos.
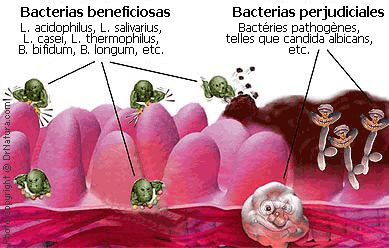
Tipos de Microrganismos Probióticos
Dentre os probióticos mais estudados e amplamente empregados como ingredientes funcionais, destacam-se as bactérias láticas, particularmente os lactobacilos, e as bifidobactérias. (ROBERFROID, 2007; WANG, 2009) P. 24
Bactérias pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium e, em menor escala, Enterococcus faecium, são as mais freqüentemente empregadas como suplementos probióticos para alimentos, uma vez que elas têm sido isoladas de toadas as porções do trato gastrintestinal do humano saudável. O íleo terminal e o cólon parecem ser, respectivamente, o local de preferência para a colonização intestinal dos lactobacilos e bifidobactérias. Entretanto, deve ser salientado que o efeito de uma bactéria é específico para cada cepa, não podendo ser extrapolados, inclusive para outras cepas da mesma espécie.
Bifidobactérias fermentam seletivamente os frutanos, preferencialmente a outras fontes de carboidratos, como o amido, a pectina ou a polidextrose.
SAAD, S.M.I.; CRUZ, A.G.; FARIA, J.A.F. Probióticos e Prebióticos em Alimentos - Fundamentos e Aplicações Tecnológicas. p.55-56, 2011.
Quantidade Recomendada
Com a utilização de doses de 100g de produto alimentício contendo 108 a 109 UFC de microorganismos probióticos (106 a 107 UFC g-1 de bioproduto) foram observadas alterações favoráveis na composição da microbiota intestinal capazes de garantir a manutenção das concentrações ativas fisiologicamente in vivo, quantidade intestinal de 106 a 107 unidades formadoras de colônias (UFC) g-1.
Especificamente em relação ao Brasil, a Comissão tecnocientífica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos, instituída junto à Câmara Técnica de Alimentos (BRASIL, 1999), tem avaliado os produtos com alegações de propriedades funcionais e/ou de saúde aprovados no país. A recomendação brasileira mais recente para alimentos probióticos é com base na porção diária de microrganismos viáveis que devem ser ingeridos para efeitos funcionais, sendo o mínimo estipulado de 108 a 109 UFC/dia.
É necessário destacar que no período em que as recomendações para alimentos probióticos foram revistas pela Comissão, houve um aumento do número de produtos probióticos disponíveis no mercado brasileiro. Dessa forma, também seria fundamental considerar o somatório dos microrganismos viáveis ingeridos nos diversos produtos probióticos consumidos ao longo do dia.
Segurança das Cepas Utilizadas como Probióticos
Antes de qualquer microrganismo ser aprovado como um novo probiótico, dados devem ser apresentados para mostrar, claramente, a sua segurança para consumo humano
Cepas probióticas de Lactobacillus, Bifidobacterium e Sacharomyces possuem um extenso histórico de segurança para o seu consumo pela população saudável. Existem poucos relatos na literatura sobre reações adversas resultantes da ingestão desses microrganismos. Consequentemente, as bactérias intestinais mais estudadas para uso como potenciais probióticos são membros dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Cepas de Enterococcus, Bacillus e Escherichia são também utilizadas como probióticos. Entretanto, esses microrganismos não são comumente encontrados em alimentos, mas como suplementos (BOYLE et al., 2006; NAGPAL et al., 2007; DOUGLAS & SANDERS, 2008; FARNWORTH, 2008)
Dentre as cepas probióticas utilizadas em produtos comerciais, com propriedades funcionais desejáveis e efeitos reconhecidos através de estudos clínicos documentados, destacam-se:
- L. casei Shirota;
- Lactobacillus johnsonii La1;
- L. rhamnosus GG (ATCC 53103);
- B. animalis Bb12;
- L. acidophilus La-5;
- L. casei DN – 114001;
- B. animalis DN 173 010;
- L. paracasei F19;
- B. animalis subsp. lactis HN019;
- L. rhamnosus HN001;
- L. acidophilus NCFB1478;
- L. reuteri ATCC 55730;
- B. infantis35264;
- Sacharomyces cerevisae (boulardii)
(GUERIN-DANAN et al., 1998; SALMINEN et al., 1998; SAARELA et al., 2000; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001; JUNTUNEN et al., 2001; SULLIVAN et al., 2001; WANG et al., 2004; ROCHET et al., 2006; HICKSON et al., 2007; SHAH, 2007; DOUGLAS & SANDERS, 2008; PRADO et al., 2008; SMERUD et al., 2008; WICKENS et al., 2008).
